Por
Gazeta Paços de Ferreira
14/07/2024, 0:00 h
387
LADY BOBS, O SEU IRMÃO E EU – UM ROMANCE DOS AÇORES
CULTURA

Por Telmo Nunes (Colunista)
CULTURA
Em concreto, trata-se de um texto com cerca de cento e vinte anos de idade, escrito por Jean Chamblin, uma mulher americana, com ascendência em França, nascida no Outono de 1876, e cuja vida dedicou às artes e ao ativismo. No teatro, por exemplo, desempenhou alguns papéis de relevo e alcançou algum sucesso junto da crítica da especialidade, assumindo, todavia, alguma falta de talento, o que terá originado esta viagem que sustenta toda esta narrativa romanceada.
“Em resumo, não tenho talento suficiente para o sucesso, nem vaidade suficiente para o fracasso. E quero ar para lutar e expulsar isto de mim.” (p. 41)
Por serem inúmeras as semelhanças entre factos biográficos relevantes e comuns muitos traços entre a Jean Chamblin – a autora – e Kate – a protagonista e narradora da obra – torna-se consensual considerar o livro como autobiográfico, sendo que este nasce a partir de uma viagem marítima efetuada pela autora (e pela protagonista) desde Nova Iorque até ao arquipélago dos Açores, viajando a bordo do Santa Maria, com os desígnios de encontrar descanso e um pouco de diversão, fugindo dessa forma à obscuridade em que se tornara a vida profissional. Isso mesmo é afirmado na imprensa da época, aquando da primeira publicação do romance:
“The present story is the result of a trip to the Azores in search of rest and diversion. Having found these she proposed that others sould share her diversion if not her rest” (p. 24)
A autora, depois de se dedicar de forma empenhada ao estudo da educação para a infância, redireciona, então, o seu percurso profissional para a representação e para a escrita, tendo, todavia, publicado apenas este texto agora apresentado, na altura com vinte e nove anos de idade, o que em boa verdade levanta um certo mistério ainda por desvendar.
O texto é primeiramente publicado em série mensal, na revista The Critic e só posteriormente, já em finais de 1905, é publicado em livro, pela G.P. Putnam’s Sons, hoje do grupo Penguin.

Maioritariamente epistolar, o texto baseia-se no enredo criado a partir das relações estabelecidas entre um reduzido grupo de pessoas que, de forma inusitada – ou não – se reencontra nos Açores, em São Miguel, mais concretamente, e se aloja no Hotel Brown, um hotel citadino, onde hoje de situa a Pousada de Juventude de Ponta Delgada, fundado por George Brown, um jardineiro inglês contratado e trazido para a ilha por José do Canto, em 1845.
Recuperando da memória ambientes urbanos, mas também aqueles outros bucólicos e campestres onde nobres e/ou burgueses se entretinham alegremente, é-nos constantemente oferecido um panorama fidedigno da realidade ilhoa daqueles primeiros anos do século XX, seja da vida que pulsava pelas artérias da cidade, mais especificamente na Rua do Beco, hoje Rua São Francisco Xavier, seja aquela que corria pacatamente na cratera das Sete Cidades ou mesmo no pacífico vale das Furnas, onde se desenrola parte significativa da trama.
A viagem aos Açores, cuja duração se estima em cerca de três meses, desde a segunda metade de abril de 1902 até ao regresso aos Estados Unidos em julho do mesmo ano, inicia-se em Nova Iorque a bordo do Santa Maria, tendo a embarcação passado pelo Faial, São Jorge, Terceira e São Miguel.
Valendo-se de uma escrita simples, escorreita, ora em harmonia com a simpleza dos ambientes descritos, ora um pouco mais intensa e até revestida de uma comicidade em conformidade com as interações entre personagens, este é um bom exemplo de literatura de viagem, e embora se possa lamentar a ausência de referência a algumas das ilhas do arquipélago, o que nos traz imediatamente à memória a incompletude da obra «Ilhas do Infante», de Guilherme de Morais, também o reduzido destaque conferido àquelas ilhas além de São Miguel é motivo de anotação, todavia, retenhamos o que diz a autora sobre o arquipélago:
“Estão aqui todas, as nove ilhas dos Açores. Pequenas ilhas cheias de orações e santuários e sinos vespertinos, enfiadas num fio de água, como as dezenas nas voltas de um Rosário do Mar. […]
Acontece-nos apenas uma vez na vida sermos mesmo levantados do chão.” (p. 51)
Não obstante, o que poderá, eventualmente, pecar pela curta extensão, redime-se fazendo vingar uma enorme qualidade literária, assim como uma brilhante combinação de géneros de que a autora se vai servindo ao longo da obra. Grande porção destes relatos conduz os leitores a uma narrativa de viagem verdadeiramente extraordinária, abrindo-lhes possíveis perspetivas de integração ou, pelo menos, fazendo-os apaixonar-se irremediavelmente pela realidade ilhoa:
“Caminhámos ao longo de uma rua estreita, com casas de pedra pintadas em tons suaves de amarelos, azul e rosa, vermelho e verde, e de então em diante nunca mais os meus pés tocaram o chão, e a minha memória regista apenas o badalar dos sinos das igrejas, a passagem silenciosa de homens descalços e o misterioso capote e capelo, ou o barulho das pequenas galochas de madeira; o gincho do velho carro de madeira, com as suas rodas de madeira maciça e a sua junta de bois; o burro com a sua carga, e o rapaz pequeno com o seu cigarro; pequenas cruzes e grandes cruzes, grande igrejas e pequenas capelas – e as pessoas bondosas, à sua sombra, a saudarem-nos com simplicidade; e acima de tudo um céu tão azul como papel mata-borrão, e abaixo de tudo o estrondo do mar a bater contra o paredão de pedra negra.” (pp. 53-54)

A leitura que conseguir penetrar além do ato meramente descritivo e contemplativo, pese embora, este, per se, seja já digno de assentamento, resultará numa enorme tela, onde foi pintada a traço fino e delicado muito que seriam os Açores e os açorianos no início do século XX. Mas, convenhamos, nem tudo eram rosas…
“Há momentos em que trocaria todas as nove ilhas dos Açores por uma boa chávena de café.” (p. 102)
Servindo-se muitas vezes de uma linguagem luxuriante, mas nem por isso menos lúcida, Jean Chamblin dá-nos conta das belezas naturais do arquipélago, não olvidando de, a trechos, lançar o seu olhar expositivo e, subliminarmente, crítico sobre a vivência social, económica, no fundo, sociológica, nos Açores, nesses primeiros anos do século XX, servindo-se, para tal, de Lady Bobs, uma personagem inglesa, de bom coração, mas revestida por uma personalidade altiva, marcadamente aristocrática, e levemente afetada pela rudeza das ilhas e particularmente pela incultura de algum do povo açoriano:
“- Pergunto-me por que não morrem todas estas crianças. Olha para elas! Vê aqueles bebés vestidos com uma só peça de roupa, amarrada sob os braços, enquanto se sentam nestes frios chãos de pedra. É chocante. Surpreende-me que uma só delas sobreviva.” (p. 128)
ASSINE A GAZETA DE PAÇOS DE FERREIRA
Esta é uma obra que precisa de ser lida com calma, (re)construindo mentalmente cada imagem, saboreando cada descrição, para assim conseguir trazer à memória cada recanto, cada visão, cada ângulo ou ponto de vista descritos. Mesmo considerando a incompletude em termos de ilhas visitadas, assim como as diferentes “profundidades” consignadas a cada ilha (fruto, sobretudo, do tempo de estada do Santa Maria em cada porto) este relato propicia uma visão distinta do arquipélago e, mesmo os afortunados que já calcorrearam as nove ilhas que o compõem, terão aqui uma oportunidade de se apropriar de uma outra visão que lhes é oferecida a partir do longínquo ano de 1902. Para aqueles outros que se encontram em processo de “ilharização”, esta obra reveste-se, então, de uma valia redobrada, dando-lhes a conhecer uma visão do passado que sustenta hoje a realidade que todos reconhecemos, assente não apenas numa trama viva e extremamente interessante, mas também num conjunto de fotografias, que, em uníssono possibilitam novas camadas percetivas, muitas vezes, inalcançáveis, seja pela acentuada lonjura geográfica, ou pela falta de acesso à eternização destes rasgos históricos temporalmente distantes, como é o caso aqui hoje referido.
Como posteriormente o fizeram Raul Brandão, Guilherme de Morais e outros, esta é mais uma das muitas vozes (açorianas ou não açorianas) que tão bem soube engrandecer as nossas ilhas, descrevendo-as com os melhores adjetivos, captando-lhe os mais exuberantes espaços, mas sem nunca cair na tentação de uma condescendência bacoca e ilusória, tornando-se por isso em um dos expoentes que tanto enobrece a cada vez mais robusta literatura de viagens que tem os Açores como palco. Foi, portanto, em boa hora que Manuel Menezes de Sequeira, lisboeta radicado e encantado na ilha das Flores, decidiu dá-lo a conhecer aos leitores portugueses, traduzindo e apontando esta edição com preciosas notas de contexto geográfico e temporal, e que em tanto favorecem a compreensão da narrativa, pelos seus leitores contemporâneos.
Por isto mesmo, a ele, a minha vénia e o meu agradecimento pela coragem e labor tidos na publicação deste texto que, de outra forma, muito provavelmente, acabaria por desaparecer nas profundezas mais escuras do esquecimento.

Últimas Notícias

Notícias da Região - edição n.º 2660 GAZETA
25/02/2026

Jovem arguido por furto de raspadinhas em Paços de Ferreira
24/02/2026
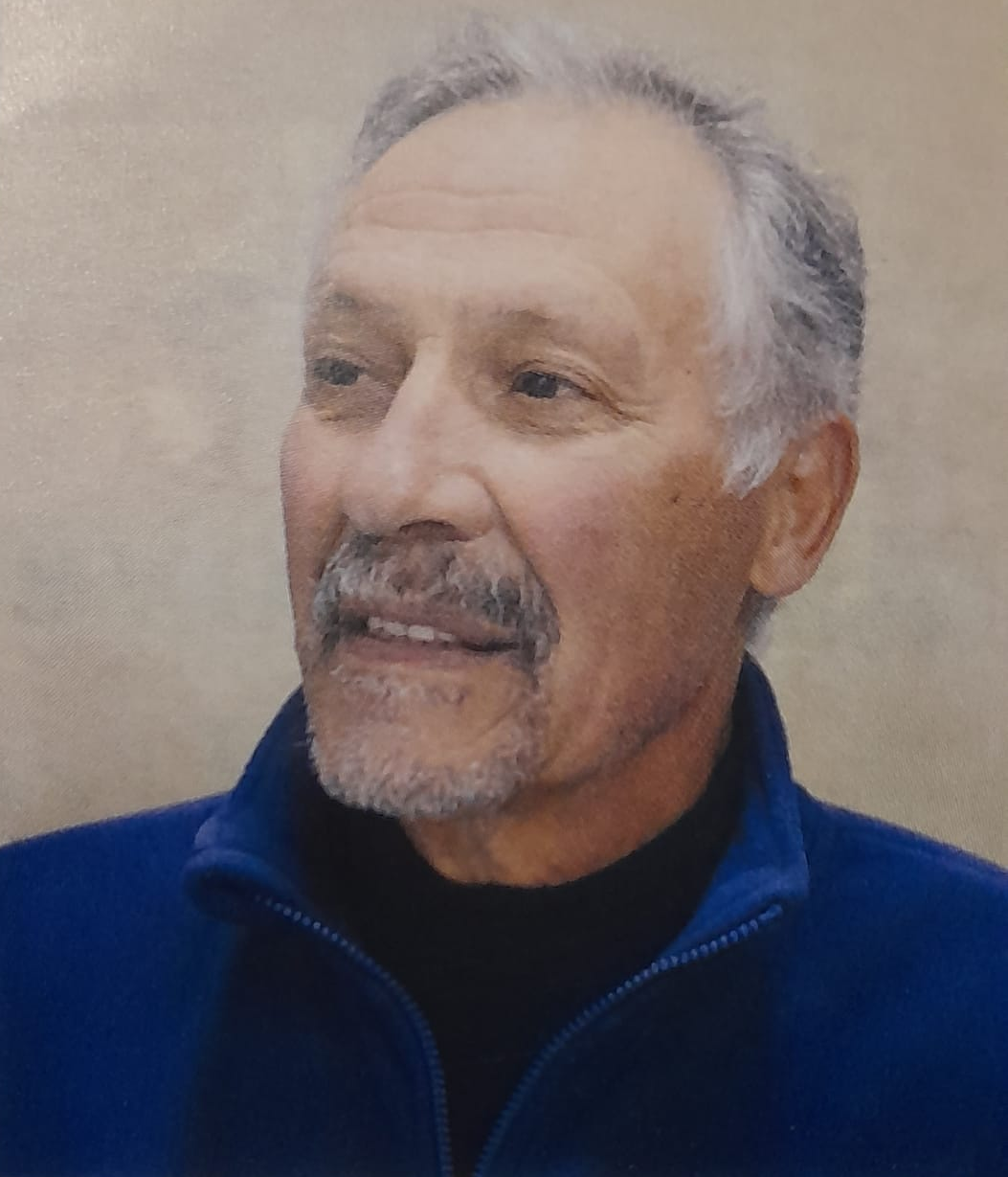
“Exterminem todas as bestas”
24/02/2026

Magazine cultural - edição n.º 2660 GAZETA
24/02/2026

Primeiro aniversário de falecimento
23/02/2026

Notícias do Município - edição n.º 2660 GAZETA
23/02/2026

O Socialismo já não é o que era em Paços de Ferreira
23/02/2026

SC Freamunde, 2 – SC Dragões Sandinenses, 0
22/02/2026
Opinião
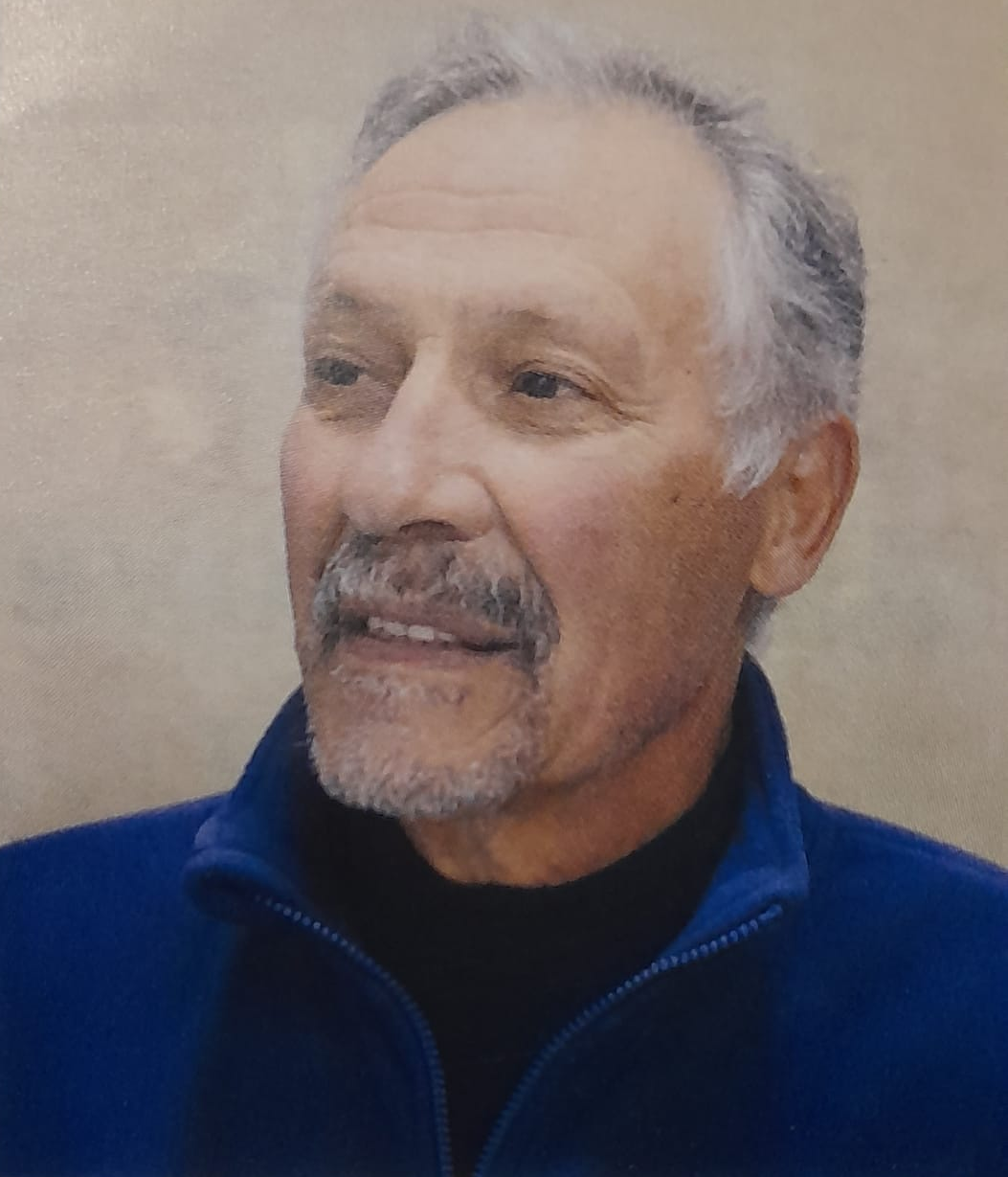
Opinião
“Exterminem todas as bestas”
24/02/2026

Opinião
O Socialismo já não é o que era em Paços de Ferreira
23/02/2026
.png)
Opinião
TRUMPISMO- o maquiavelismo na época contemporânea - O QUE FAZER?
22/02/2026

Opinião
PODE O TRABALHADOR EXERCER OUTRA ATIVIDADE DURANTE AS FÉRIAS?
22/02/2026


